
Por Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (*)
A um milhão e meio de quilómetros da Terra, o maior telescópio alguma vez colocado no espaço irá abrir perante o Cosmos as pétalas do seu espelho desdobrável de seis metros e meio de diâmetro. O novo telescópio espacial James Webb é uma pérola de tecnologia, e a partir de 2022 revelará um Universo mais nítido, mais profundo e mais antigo.
O lançamento está previsto para este dia 25 de dezembro a partir do astroporto de Kourou, na Guiana Francesa, a cargo da Agência Espacial Europeia (ESA). Idealizado há mais de vinte e seis anos, o observatório espacial James Webb (JWST) é um projeto da agência norte-americana NASA em parceria com a ESA e a Canadian Space Agency, em conjunto com 14 países.
Irá observar quase todas as fases da história do Universo, desde o nosso quintal cósmico – o Sistema Solar – até às regiões remotas do início do tempo, apenas algumas dezenas de milhões de anos após o momento da criação, o Big Bang. Observará sobretudo na gama dos infravermelhos, revelando objetos mornos ou frios que se escondem sob o fulgor da luz visível: a atmosfera de planetas, os pequenos corpos perdidos na periferia do Sistema Solar, estrelas em gestação, possíveis sinais da existência de vida em mundos em órbita de outras estrelas, e o aspeto exótico das primeiras galáxias que povoaram o Cosmos. Tudo isto são alvos da investigação da comunidade científica portuguesa, nomeadamente em equipas do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA), do Centro de Física da Universidade de Coimbra (CFISUC) e do Centro de Astrofísica e Gravitação (CENTRA).
Ventos e moléculas
O estudo dos mundos do Sistema Solar – Marte, Júpiter, ou Saturno – requer missões dedicadas, sondas em viagem interplanetária durante anos até enfim, tão longe da Terra, observarem de perto as atmosferas e superfícies desses planetas. A capacidade de resolução do telescópio James Webb permitirá fazer algumas dessas observações aqui perto, apenas a um milhão e meio de quilómetros.
As suas observações no infravermelho poderão penetrar nas profundas camadas das espessas atmosferas de Júpiter, ou de Titã, uma lua de Saturno, a única lua do Sistema Solar com uma atmosfera de pleno direito. Irá assim obter com detalhe informação sobre a composição química, os ventos e a dinâmica global e a várias altitudes dessas atmosferas tão diferentes da da Terra.
Para além de planetas e luas, o Sistema Solar está povoado de pequenos corpos, sobretudo para lá da órbita de Neptuno. Pela sua pequena dimensão, os chamados objetos transneptunianos reservam ainda muitos segredos, o mais precioso dos quais é a própria história do Sistema Solar. Estes objetos primitivos evoluíram ainda assim ao longo de milhares de milhões de anos e cada vez mais se acumulam evidências de que houve muitas misturas entre os mais rochosos formados perto do Sol e os mais ricos em gelos que se formaram na periferia.
Esses gelos são muito diversos: gelo de metanol, um álcool muito importante para a formação de outras moléculas ricas em carbono, e gelos de azoto, metano e monóxido de carbono. Todos são detetáveis pelo modo como refletem a luz infravermelha do Sol, fazendo-o no entanto em comprimentos de onda que são absorvidos pela atmosfera da Terra. Em pleno espaço, os instrumentos do telescópio James Webb poderão, sem interferências, separar esse reflexo infravermelho nos seus vários comprimentos de onda, e isolar assim os sinais das diferentes moléculas. A esta análise, focada em 60 dos mais de 3000 objetos transneptunianos conhecidos, dedicar-se-á um dos projetos da primeira ciência a ser feita com o JWST, e que tem como colaborador Nuno Peixinho, do IA e da Universidade de Coimbra.

Um outro projeto que irá também inaugurar a ciência feita com o JWST e que conta igualmente com participação portuguesa, irá também procurar moléculas, mas a biliões de quilómetros. A equipa, que inclui Susana Barros, Nuno C. Santos e Vardan Adibekyan, do IA e da Universidade do Porto, tem como alvo a estrela designada por TOI-178, onde é quase certo existirem pelo menos seis planetas segundo observações feitas com o telescópio CHEOPS, da ESA.
Num momento da história da astronomia em que foram já descobertos mais de quatro mil planetas extrassolares e em sistemas planetários tão diferentes do nosso, a teoria sobre a formação de planetas é ainda provisória e precisa de mais e de melhores dados. O objetivo deste projeto é detetar nas atmosferas desses planetas sinais de moléculas de água, monóxido de carbono, dióxido de carbono e metano, e saber como as suas abundâncias variam com a distância à estrela. Assim se poderá tentar reconstruir a história deste sistema planetário e descobrir eventuais migrações ou permutas entre órbitas.
Os planetas em órbita de outras estrelas estão demasiado longe e são demasiado pequenos para aparecerem numa fotografia, mas emitem luz no infravermelho. O telescópio James Webb irá beneficiar desse contraste com a estrela-mãe (que emite sobretudo na luz visível) para mais facilmente separar a luz que vem do planeta daquela que vem da estrela. O seu nível de precisão permitirá ver um filme do que está a acontecer nesses mundos a dezenas ou centenas de anos-luz.
Qual a forma que tem a sombra desses planetas quando passam diante da estrela? Isso dirá se têm luas, anéis, ou se têm alguma anomalia em relação à típica forma esférica dos planetas. E que moléculas são mais abundantes na atmosfera em diferentes momentos? Desta análise molecular, mesmo sem fotografias, é possível saber se existem nuvens e a direção dos ventos que as fazem mover, ou até, se existem moléculas naturalmente instáveis e que só formas de vida poderiam manter por longos períodos de tempo.
Universo frio e distante
Se pudéssemos “ouvir” luz infravermelha, o nosso dia-a-dia à superfície da Terra seria vivido num permanente ruído. Tudo o que é morno ou frio, incluindo o nosso corpo, emite infravermelhos, em frequências em que será feita muita da ciência do telescópio James Webb. No espaço, estará no meio do “silêncio”, concentrando-se assim na química complexa das zonas frias do espaço interestelar, no calor emitido no âmago das nuvens moleculares onde se estão a formar estrelas, ou nos discos em volta das mais evoluídas e onde se estão a formar planetas.
Irá surpreender também planetas vagabundos, desgarrados de qualquer estrela, à deriva pela galáxia, ou ainda “estrelas falhadas”, chamadas anãs castanhas, demasiado pequenas para gerar energia por reações nucleares como o faz o Sol e todas as estrelas que vemos no céu. O JWST poderá então dar-nos a verdadeira noção da quantidade de pequenos corpos que preenchem a galáxia, invisíveis por entre os milhares de estrelas que vemos no céu, mas provavelmente muito mais numerosos.
Invisíveis têm-nos sido até agora também as primeiras galáxias, com os seus primeiros enxames de estrelas. Como eram essas estrelas? Pensa-se que eram colossais, com a massa de pelo menos 100 sóis, de proporções que é raro encontrarmos no Universo atual, e sobretudo com características hoje extintas.
Apesar de a luz longínqua, pelo tempo que demorou a percorrer o espaço, nos mostrar o Universo como era no passado, há um limite com que nos deparamos ao remontar no tempo, um nevoeiro que torna impossível obter imagens de quando o Universo tinha menos de 700 milhões de anos. Esse nevoeiro é menos opaco no infravermelho e as estimativas apontam para que o JWST consiga ir mais longe do que o campo ultraprofundo do telescópio Hubble (HUDF) e revelar o Universo tal como era apenas 50 milhões de anos após o Big Bang. Um outro projeto aprovado para o primeiro ciclo de observações com o telescópio James Webb, e que conta com a colaboração de Jarle Brinchmann, do IA e da Universidade do Porto, propõe-se dar seguimento ao estudo de galáxias antigas e muito ténues descobertas em 2017 com telescópios do Observatório Europeu do Sul (ESO). Estas galáxias oferecem a possibilidade de algo quase impossível no Universo atual: ver a semente de onde surgiram as enormes galáxias que vemos hoje à nossa volta.

Nessa época, as galáxias seriam quimicamente pobres, ainda destituídas dos elementos químicos que só mais tarde seriam produzidos no coração das estrelas: carbono, oxigénio, azoto, essenciais para a vida como a conhecemos, e presentes na atmosfera de todas as estrelas atuais, incluindo o Sol. Estudando, por exemplo, as regiões de gás muito ténues que envolvem as zonas de formação de estrelas nessas primeiras galáxias, e que emitem sobretudo no infravermelho, o JWST permitirá conhecer a história da química – que elementos químicos existiam já em cada momento da história do Universo?
Esta pergunta remete-nos para outra, que indiretamente questiona o futuro e destino do Cosmos: Com que velocidade se expandiu o Universo em cada momento da sua história? Desde os trabalhos de Edwin Hubble na década de 1920 e de Beatrice Tinsley na década de 1970, que sabemos que o Universo não é rígido e imutável desde sempre e para sempre, mas se está a expandir, criando mais e mais espaço em si. E fá-lo de forma acelerada e irreversível, impulsionado por uma qualquer energia ainda enigmática a que se deu o nome de energia escura.
Porém, a velocidade dessa expansão – quanto mais espaço é criado a cada instante que passa – é algo para o qual os cosmólogos têm dois valores, obtidos por dois métodos diferentes. O telescópio espacial James Webb, tal como fez o telescópio Hubble na década de 1990, irá realizar observações dessa taxa de expansão, mas com uma precisão muito maior, ou seja, menor margem de erro. Os cosmólogos – cientistas que estudam o Universo no seu todo – serão capazes então de obter também valores mais precisos para a quantidade total de matéria que existe no Universo e a sua proporção em relação àquela energia escura. Valores mais precisos para estas propriedades do Cosmos darão margem para criar e validar teorias que venham, enfim, lançar alguma luz sobre a obscuridade desta questão.
Faça-se luz
Transportando o nome do segundo administrador da NASA, que ficou associado ao programa Apollo, o telescópio espacial James Webb irá viajar durante um mês até se posicionar numa órbita estável em volta do Sol, a um milhão e meio de quilómetros da Terra, no alinhamento do nosso planeta com o Sol (chamado ponto de Lagrange 2). Estará assim numa posição fixa em relação à Terra e voltado para o exterior do Sistema Solar. Serão ainda necessários seis meses para concluir a implementação inicial, arrefecer até cerca de 230 graus Celsius negativos, verificarem-se todos os alinhamentos e serem realizadas todas as calibrações.
A comunidade científica portuguesa irá produzir ciência com uma nova infraestrutura de topo, não apenas através dos projetos já aprovados e que aguardam com expectativa o posicionamento do telescópio, mas também na sequência de futuras chamadas a pedidos de observação, em projetos originais e promissores que sejam recomendados ao Space Telescope Science Institute (STSCI) pelo painel de avaliadores. Serão também de aproveitar os dados que, findo o período proprietário dos projetos que os pediram, forem publicados e colocados à disposição da comunidade científica mundial.
O telescópio James Webb traz em si a herança da inovação na Astrofísica: desde a estrutura hexagonal do seu espelho de 18 segmentos em favo de mel, de que foram pioneiros os telescópios Keck, no Havai, à experiência com os seus antecessores no espaço, os telescópios Hubble e Spitzer. Estes dois últimos ultrapassaram as expectativas dos seus criadores, em duração e produtividade. Assim o James Webb mantenha a tradição.
(*) Texto de Sérgio Pereira com contribuições de Susana Barros, Jarle Brinchmann, Nanda Kumar, Pedro Machado, Nelson Nunes e Nuno Peixinho
Em destaque
-
Multimédia
Osmo Action 6 é a primeira câmara de ação da DJI com abertura variável -
Site do dia
Como saber se tem cobertura de fibra, rede fixa e móvel na sua zona? -
App do dia
Quer recriar o charme da fotografia vintage? Experimente os filtros e efeitos da Vintify -
How to TEK
É mais fácil convidar amigos para um grupo do WhatsApp. Saiba como fazer

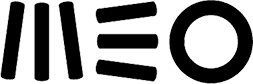
Comentários